A negatividade constitutiva do amor conjugal.
Por Benilson Nunes.
A maioria das pessoas nunca ouviram falar o que seria uma psicologia de senso comum. Trata-se de um conjunto de crenças sobre a mente que funciona como uma teoria, mas que, todavia, não é tomada como tal. Em outras palavras, temos um arcabouço conceitual para referenciar os estados mentais, afetos, desejos, etc., de modo mais ou menos sistemático. Dizemos que tal pessoa está triste, que tal pessoa está alegre, e assim por diante, segundo critérios mais ou menos conscientes. Boa parte da psicologia clínica, inclusive, opera por meio desses conceitos ordinários sobre a vida psíquica. Uma boa explicação do que seria a "folk psychology" pode ser encontrada, a despeito do viés fisicalista do autor, na obra de Paul Churchland intitulada Matéria e Consciência: uma introdução contemporânea à filosofia da mente (2004, p. 101-103)
O
que seria, então, uma psicologia que não é de "senso comum"?
Basicamente, teríamos duas respostas possíveis: a de um fisicalista e a de um
mentalista (um que negue que a mentalidade possa ser explicada com conceitos comuns). Para entendermos melhor, primeiro temos de saber o que são essas
duas coisas:
Para
um fisicalista radical, isto é, para alguém que não acredita que a mente possua
existência própria (ou independente), o conhecimento efetivo da mente e de seus estados
envolveria a descrição de fenômenos físico-químicos do cérebro. Em outras
palavras, conhecer a mente não envolve referência ao âmbito psicológico, pois
um estado mental como a felicidade nada mais é que uma determinada configuração
cerebral. Em vista disso, o fisicalismo radical orienta abandonar a psicologia
de senso comum a favor do vocabulário neurocientífico (mais especificamente,
essa é a tese do fisicalismo ou materialismo eliminativista[2]).
Já
para um mentalista, isto é, alguém que acredita que possamos explicar a mente com conceitos psicológicos, a referência à mentalidade é fundamental. Restringir-se ao vocabulário neurobiológico seria restringir o objetivo teórico. O investigador da mente, assim, deve ser capaz de encontrar uma [nova] terminologia adequada para os estados mentais, a fim de que as lacunas ou contradições deixadas pelo arcabouço conceitual do senso comum sejam corrigidas.
E se considerarmos um mentalista mais específico, um processualista, teremos de imediato de pontuar algo fundamentalmente negativo na psicologia de senso comum: o atomismo psicológico, a saber, a ideia de que nossos estados mentais (como desejos, medos, etc.) operam discretamente[3]. Nesse sentido, os estados mentais seriam como pérolas destacadas umas das outras no seguimento de um fio de colar. Dizendo de outro modo, a nossa mente seria composta por estados quantificáveis e separáveis uns dos outros ― e não formada por, como diria Henri Bergson, seguindo um tanto a esteira de William James, um "fluxo" psíquico ininterrupto e interpenetrado.
E se considerarmos um mentalista mais específico, um processualista, teremos de imediato de pontuar algo fundamentalmente negativo na psicologia de senso comum: o atomismo psicológico, a saber, a ideia de que nossos estados mentais (como desejos, medos, etc.) operam discretamente[3]. Nesse sentido, os estados mentais seriam como pérolas destacadas umas das outras no seguimento de um fio de colar. Dizendo de outro modo, a nossa mente seria composta por estados quantificáveis e separáveis uns dos outros ― e não formada por, como diria Henri Bergson, seguindo um tanto a esteira de William James, um "fluxo" psíquico ininterrupto e interpenetrado.
Em
nossa abordagem sobre a psicologia de senso comum ficaremos apenas com a tese mentalista, em seu viés processualista, no que tange ao problema da
psicologia de senso comum. Não que o materialismo eliminativista não possua
pontuamentos importantes, mas a tese
mentalista, também se opondo ao atomismo, possui objeções mais facilmente
consensualizáveis.
Voltando ao ponto que iniciamos há pouco, de
acordo com os mentalistas processualistas, sequer
devíamos falar em "estados" mentais, pois o preferível seria falar de
"processos" mentais. Para estes mentalistas, a vida psíquica é antes
um fluxo de fenômenos. Além disso,
discriminar ou separar conceitualmente um processo mental só é
possível a fim de atender metodologias expositivas, pois, em si mesmos, os
fenômenos mentais são, pela sua natureza fluida, indizíveis. Em outras palavras, quando
tentamos referenciar (falar sobre) um fenômeno psíquico na verdade estamos a
falar dentro de uma convenção artificial. O fluxo mental em si mesmo que
tentamos capturar, por outro lado, foge aos nossos esquemas conceituais. Assim, de
acordo com os mentalistas processualistas, sabemos mais sobre a vida psíquica
quando a vivenciamos do que quando a comunicamos por meio da linguagem. Os
pontuamentos wittgensteinianos sobre o assunto aqui é inevitável, mas peço que,
por caridade hermenêutica, assumam provisoriamente que haveria estados
psíquicos experienciáveis para além dos limites linguísticos. De certo, a
possibilidade da linguagem privada é um problema, mas postular que, por isso,
não há estados mentais para além da linguagem, constitui, ao meu ver, uma
petição de princípio. Estou aqui assumindo os pressupostos de Henri Bergson.
Para uma discussão interessante entre Bergson e Wittgenstein que resvala nessa
problemática, ver Neto (2005).
Assim
sendo, quando falamos sobre determinado aspecto da vida psíquica operamos, sem
perceber, a atomização do fluxo mental ou dos afetos. Inclusive, quando dizemos, por exemplo,
que "fulano" ama "ciclano",
estamos a operar, além de um atomismo conceitual, uma banalização de toda a
riqueza psíquica que está envolvida numa relação intersubjetiva deste tipo. Mas
aqui já estamos nos apressando, pois ainda não analisamos o conceito de
"Amor". Vejamos então, tal como queremos propor, quatro formas usuais de se compreender o amor:
1) o Amor (com "A"
maiúsculo) cristão: o Amor do evangelho é antes um verbo (o Verbo Divino) que
uma coisa. Uma leitura
sagaz do Novo Testamento permite entender que só ama quem age. Não existe, portanto, "o
amor" (este amor sendo o próprio Deus), mas o ato de amar. Neste sentido, temos um conceito
de amor ativo que só faz sentido referenciá-lo
quando ele está a ser realizado. Trata-se, assim entendemos, de um conceito de
amor não psicológico, mas moral, isto é, uma orientação.
2) o amor intersubjetivo (afetivo):
trata-se do amor compreendido mais ordinariamente, a saber, entre duas ou mais
pessoas. Devemos dizer que este conceito de amor serve mais a quem vê do que a
quem vivencia, pois a abstração da riqueza psíquica envolvida no conceito só
parece possível para quem não está vivenciando, naquele momento, a turbulência
pulsional e contraditória dos processos mentais envolvidos. É muito comum, por
exemplo, alguém dizer "vocês formam uma amizade ou casal lindo" e ter
algo como resposta "pode parecer bonito, e de fato é, mas também é bem
mais complicado do que você pensa".
3) o amor motivado biologicamente:
amor de parentesco. Eu poderia evocar aqui recentes discussões sobre o papel
obrigatório da mãe, depressões pós-parto, aborto e etc. Mas vou preferir, já
que é um conceito biológico, permanecer na biologia orgânica. Alguns devem conhecer
a famosa tese do Gene Egoísta do
biólogo Richard Dawkins (2007). Dentre outras coisas, o biólogo
defende que o altruísmo de parentesco é motivado não por algum tipo de instinto
materno ou paterno, mas por egoísmo genético. Em outras palavras, tendemos a
proteger ou cuidar de parentes em função deles comportarem grande parte de
nossos genes. Os nossos genes, assim sendo, são quem direcionam a nossa
psicologia para o comportamento altruísta.
4) o amor monástico: é, em geral, a
ideia de um "amor platônico", ou ainda, de "amor de monge",
um amor absolutamente desinteressado e ascético. Muitos chamam esse tipo de
amor de "amor genuíno", pois ele atua sem esperar nada em troca.
Alguém poderia objecionar que estou a repetir o primeiro tipo de amor, o amor
cristão, mas há também quem diga que doutrinas do oriente advogam um conceito
de amor ainda mais ascético que o evangelho, pois este último ainda está a
esperar amor em troca, mesmo que no pós-vida. Um outro aspecto que diferencia o
amor monástico do amor evangélico é o objetivo: o amor monástico pretende a
"paz de espírito", já o amor cristão pretende a comunhão das pessoas.
Dentre
esses quatro "tipos" de amor, ou melhor, dentre essas quatro formas
de compreender o que viria a ser o amor, iremos nos concentrar no segundo.
Podemos justificar: o primeiro tipo, na medida em que não reifica e nem
hipostasia o verbo amar, parece pouco problemático e não
entra em conflito com o que queremos objecionar; o terceiro tipo, por sua vez,
e de modo claro, acaba por reforçar nossa tese de que o amor não existe (por
mais que se queira utilizar, porventura, o termo "amor" para o
altruísmo biológico). Por fim, o quarto tipo é um amor de doutrina, isto é, diz
respeito a um conjunto de regras numa tradição e só tem sentido enquanto fizer
parte dela (seja uma doutrina monástica, ascética e etc). Trata-se, neste
último caso, de um amor moral não reificado, tal como no evangelho (mas não
estou convencido que é tão não-reificado assim, depende da tradição). Em todo
caso, o amor monástico e o amor cristão estão restritos ao nível consciente dos fenômenos
psíquicos, pois você deve querer (um
dever moral) amar as pessoas, o que é muito diferente de um amor que seria a
conjunção de âmbitos conscientes e inconscientes (pulsionais).
Também poderíamos ter enumerado o "amor-próprio". Todavia, esse conceito parece algo que foge um tanto ao que se pretende referenciar, em geral, por "amor", pois ele não referencia algo que envolve um território intersubjetivo, mas uma subjetividade isolada. Esse amor subjetivo, por exemplo, poderia ser imediatamente traduzido por "preocupação-de-si" ou "cuidado-de-si" ou narcisismo subjetivo, simplesmente, em contraste com o narcisismo estético. Mais ainda, ao nosso ver, trata-se muito mais de um termo pragmático, no sentido de ter referência apenas em contextos específicos, do que um termo teórico, isto é, que referencia algo ontológico no mundo.
Também poderíamos ter enumerado o "amor-próprio". Todavia, esse conceito parece algo que foge um tanto ao que se pretende referenciar, em geral, por "amor", pois ele não referencia algo que envolve um território intersubjetivo, mas uma subjetividade isolada. Esse amor subjetivo, por exemplo, poderia ser imediatamente traduzido por "preocupação-de-si" ou "cuidado-de-si" ou narcisismo subjetivo, simplesmente, em contraste com o narcisismo estético. Mais ainda, ao nosso ver, trata-se muito mais de um termo pragmático, no sentido de ter referência apenas em contextos específicos, do que um termo teórico, isto é, que referencia algo ontológico no mundo.
E
quanto ao segundo tipo, o amor afetivo? Este conceito é o centro do
nosso problema, é ele quem é utilizado para referenciar, na maior parte das vezes, as relações amorosas
ordinárias, por exemplo. No uso deste conceito pretendemos abarcar uma
infinidade de fatores que constituem os laços afetivos. E em se tratando de
relações amorosas, a coisa fica mais difusa ainda, pois, neste, além de múltiplos
processos psíquicos (conscientes e inconscientes), entra em jogo também a
mediação no nível puramente orgânico da endocrinologia sexual. Que seja.
Deixemos, por ora, essa abordagem mais geral para
tentarmos o seguinte experimento de pensamento:
Imagine
que a palavra amor nunca tenha existido e que você possua um certo poder de
notar sutilezas psicológicas e comportamentais. Imagine, também, que você está
empenhado em compreender a dinâmica (a palavra certa seria
"economia") afetiva entre duas ou mais pessoas. Além disso, você não
se contentará em observar apenas o lado passível de boas valorações, isto é,
você não quer saber somente o lado bom, você quer saber de tudo. Você vê
carícias sendo trocadas, palavras doces e favores sem compromissos; mas você
também vê cobranças, ciúmes implícitos e interesses sexuais com urgência. Tudo
parece, nesse poço de contradições, como que as pessoas envolvidas estivessem
empenhadas num esforço de evitar
conflitos latentes. Uma mixagem, se assim podemos dizer, de emoções ou
pulsões contraditórias nunca deixam de se apresentar sutilmente por vias do
comportamento. Mas seu poder não pára por aí: você também é capaz de notar
aquilo que ainda não se tornou manifesto nem em comportamento, nem em
consciência. Sua intuição se funde com a intuição nascente das pessoas que você
observa. Mais que isso: você é capaz de realizar os anseios máximos de um Freud
e assistir aos sonhos noturnos destas pessoas.
Eis
então a primeira briga que você assiste: lá estão elas alterando a voz e
contraindo os traços faciais. Num momento e outro, sem elas tomarem atenção para
o que estão fazendo, você nota a contração de um punho, mas nenhum golpe é
lançado. A pulsão de uma expressão física violenta parece simplesmente se
deslocar para uma tonalidade de voz mais rigorosa. Mas nem por isso você parece
inclinado a concluir que o desejo por violência física não esteve presente em nível
inconsciente, senão consciente, mas em silêncio. Mais alguns segundos e uma
expressão física se manifesta: o bater violento de uma porta com o encerramento
da discussão. Você pensa: "ora, em um momento atrás estavam, como diria o
senso comum, "se amando", mas bastou mais um segundo para ficarem em vias de se
atracarem".
Ao cair da noite, estando os membros do casal em leitos separados, você decide observar o sonho de um deles. Suponhamos que você tenha os poderes de escrutínio milagrosos da psicanálise e consiga identificar, por trás das confusões do conteúdo imagético dos sonhos, o significado que percorre a sucessão de imagens. Tal como Freud (2001, p. 108), você bem sabe o que constitui o laço motor dos sonhos: um desejo. Assim sendo, lá está o seu paciente adormecido sonhando (na verdade um pesadelo) com uma cena de infância: ele ou ela havia atacado um colega com uma pedra. O motivo aparente no sonho era em razão do colega ter gritado com ele/a. Ao voltar para casa, sentiu, no entanto, extremo arrependimento. Ao mesmo tempo em que se culpava, descontava nos pais a raiva que sentia de si mesmo/a, perpetuando, assim, um ciclo de conflitos e de estresses emocionais. Fim do sonho. Sua conclusão sobre o desejo por trás do conteúdo onírico manifesto? Ser capaz de pedir desculpas. O dia amanhece, mas as desculpas latentes, prontas a subirem ao pré-consciente para se tornar possível enunciá-las, não surgem, pois a catexia que o pré-consciente precisava para dar vazão às sinceras desculpas fora sequestrada por uma raiva que tiraniza, desde há muito tempo, seu subconsciente e, consequentemente, sua consciência.
"Ah sim, vocês então estão dizendo que no amor,
apesar de tudo, há seus trancos e barrancos" ― quem dera a análise do
referente deste conceito pudesse se esgotar com tamanha superficialidade!. O
mais complicado e negligenciado aspecto das relações amorosas ainda está por
vir. Trata-se do lado negativo,
porém constitutivo, dos laços afetivos amorosos, a saber, a possessão e demais
exercícios tácitos de poder. Como diria um adepto de alguma visão dialética,
para amar é preciso também estar pronto para odiar (lembrando aqui agora do
padre de The Walking Dead).
Em outras palavras, todo pretenso amor traz em sua constituição um lado
negativo que o possibilita ao mesmo tempo em que o anula, convidando-nos,
assim, ao uso de outro arcabouço conceitual de referência. De fato, um
raciocínio confuso, mas que pretendo retomá-lo com mais clareza.
O que o nosso breve experimento de pensamento procurou mostrar? Certamente, deixou claro uma multiplicidade longa de fatores que condicionam, por sua vez, outra multiplicidade de fenômenos observáveis em um único conflito afetivo. Valeria pensar, por exemplo, se há alguém, em última análise, responsável pela raiva que contrai os punhos de um dos membros do casal, mas isso renderia uma investigação ainda mais longa, tanto em sentido psicobiográfico quanto em sentido filosófico. Ou mesmo, já aplicando nossa crítica à psicologia de senso comum, se o sentimento referenciado por "raiva" aqui pode ser atomizado da totalidade psicológica e fisiológica.
Considere agora outro casal (não se preocupe, pois desta vez a história, infelizmente, será breve). Nosso segundo casal nunca exteriorizou o que chamaríamos de "raiva", ou pelo menos nunca o fez de forma que fosse ordinariamente notável. Para quem vê, por assim dizer, trata-se de verdadeiro amor: nada de sentimentos de posse, brigas, manipulações psicológicas (tácitas ou explícitas), etc. Foram cinco anos de casamento ou namoro quando uma das partes resolve romper o relacionamento. A justificativa, no caso, não foi passional, mas racional: a parte em questão pretendia viver novas experiências amorosas. A partir de então, o casal que "amava", ao romper o espaço formal de troca afetiva/sexual das subjetividades, faz emergir um monstro. Uma semana depois do rompimento, uma das partes, ao saber que a outra parte já se encontrava com um novo parceiro/a, revela um sujeito psicológico que nem os seus pais poderiam desconfiar. Eis a cena: encontra seu antigo amado com "o outro" e, não vendo mais sentido na própria vida que foi despossuída (esse termo é importante), resolve encerrar a própria vida e a do amado/a.
O senso comum denomina essa fatalidade de algo como "psicopatia": matou porque era um psicopata incapaz de amar. Ora, a confusão a essa altura é inevitável. Como um casal que amou por tantos anos deixou, subitamente, de amar? Primeiramente, para aceitarmos essa afirmação, temos de banhar o significado de amor com algo mais mundano, isto é, algo nada de eterno, mas passageiro. Mas aqui não fizemos nada além de um ad hoc, isto é, no lugar de pensar uma nova hipótese, adicionamos exceções ou novos elementos ao conceito [de amor] para encobrir as persistentes contradições. Ao nosso ver, aqui já seria o caso de conjecturar se o conceito de amor, além de promover uma hipóstase, não cumpre um papel de encobrir a real dinâmica das relações afetivas. Em geral, tendemos sempre a justificação "mas não era amor" quando dizíamos, previamente, ser amor. Citarei mais exemplos, mas por ora tenhamos a seguinte máxima como plano de fundo: o conceito de amor é, fundamentalmente, um ad hoc. Ele deixa imediatamente de fazer sentido quando não estamos mais dispostos a re-significá-lo. E, a despeito da suposta positividade de um conceito re-significável, temos de estar atentos quando a volatilidade do mesmo não está a serviço de encobertamentos fenomênicos.
Insistindo ainda nesse último ponto, certamente há alguém nesse momento dizendo consigo: "mas aí que está o valor do conceito, pois ele é provido de suficiente fluidez para recapacitá-lo semanticamente sempre que for preciso". O conceito de amor bem poderia ser um instrumento linguístico elástico para enunciações com fins poéticos, mas enquanto nos perguntamos sobre a sua existência ou não numa relação afetiva, outras dinâmicas intersubjetivas tácitas ou psicológicas ― potencialmente perigosas ― permanecem operando. O exemplo do segundo casal não foi por menos: o casal atendia critérios suficientes para ser referenciado como amor e, portanto, pela própria significação presumida do conceito, confiável (amor sem confiança não existe e etc.). Contudo, todas as pessoas que cercavam o casal foram pegos de surpresa. O que, então, operava-se na relação daquele casal que fomos incapazes de perceber? Eis aqui a dimensão negativa constitutiva de todo e qualquer relacionamento que a linguística do amor ofusca para proveito das fatalidades aparentemente contingentes.
Sendo assim, vale agora buscarmos o que determinados autores têm a falar sobre o atomismo psicológico, bem como sobre os traços negativos, porém constitutivos, das relações afetivas amorosas.
Coelho (2010), estudioso laborial das obras de psicologia de Henri Bergson, nos fornece, de maneira clara, uma das intuições centrais da filosofia bergsoniana acerca da dimensão mental. Segundo Bergson, quando isolamos e damos um nome a um estado mental nós o "cristalizamos" (COELHO, 2010, p. 48). Em outras palavras, "[...] as vivências interiores, as ideias e emoções não são algo nítido, preciso e impessoal como o que é oferecido na percepção de muitos dos objetos materiais, mas sim algo 'confuso, infinitamente móvel e inexprimível', fato que é frequentemente ocultado pela linguagem" (COELHO, 2010, p. 47). Na visão de Bergson, a linguagem é a vilã principal desse erro epistemológico. É o próprio ato, desavisado, de denominar estados psicológicos que nos faz cair na armadilha de pensar que podemos compreender o âmbito psíquico como compreendemos os objetos da física. Não por acaso, Bergson desenvolveu uma contundente crítica à psicofísica de sua época que pretendia quantificar sensações. Dessa forma, acerca do amor, diria Bergson:
"Quando usamos palavras como amor ou ódio, para referirmo-nos a certos sentimentos, estamos tratando esses sentimentos como se fossem uma só e mesma coisa, para uma mesma pessoa, em todas as circunstâncias ou para todas as pessoas independentemente de suas outras vivências interiores. Em outras palavras, objetivamos tais sentimentos como se fossem impessoais, os tratamos como se eles tivessem uma essência rígida e imutável. Para Bergson, o amor e o ódio, e o mesmo vale para os outros sentimentos, não podem ser dissociados daquele que os experimenta, refletindo a sua "personalidade inteira", o que significa que "cada um de nós tem a sua maneira de amar e de odiar", variedade essa que tornaria inviável a expressão fiel de sentimentos por meio de palavras já que necessitaríamos de um número infindável delas. Nem mesmo os romancistas que têm o poder extraordinário de reconectar tais sentimentos à vida dos personagens que os experimentam, descrevendo a em sua riqueza de detalhes, ou seja, de tirá-los da sua condição objetiva e restituí-los ao domínio da experiência subjetiva, são inteiramente bem sucedidos. Seu empreendimento não é completamente bem-sucedido por causa justamente dos próprios limites da linguagem, de sua incapacidade de exprimir o puramente qualitativo e individual." (COELHO, 2010, p. 50).
O que Bergson, em sua investigação introspectiva sobre os
estados mentais, quer dizer, em poucas palavras, seria: nossa inteligência
comunal é incapaz de captar a esfera puramente qualitativa que constitui os
nossos estados psíquicos. Se, ainda assim, a inteligência pretender realizar
esse empreendimento, será necessário que ela esteja pronta a criticar a si
mesma, a fim de eliminar, ao máximo, os seus vieses analíticos. Uma verdadeira
"fenomenologia" (aspas, pois não se trata de uma fenomenologia como a
de Husserl) só é possível se tiver em conta que a dimensão psicológica é
constituída não por tipos psicológicos enumeráveis, mas por uma verdadeira
multiplicidade interpenetrada de sentimentos que determinam uns aos outros sem
perderem a unidade de sua fenomenologia. O mesmo, portanto, vale para a
investigação do amor: não podemos mais pensar no amor como algo com
independência ontológica. De preferência, o melhor seria abandonar o conceito
de amor para ser possível re-significar os estados afetivos (sobretudo
conjugais) com um novo arcabouço terminológico, isto é, com novos conceitos,
desta vez dinâmicos e complexos o suficiente para dar conta das múltiplas
determinações psicológicas e intersubjetivas operantes no enamoramento.
Mas isso não basta. Há ainda uma segunda problemática que
já esboçamos em parágrafos anteriores. Trata-se do que chamaríamos de elementos negativos da constituição
dos laços amorosos. Essa dimensão negativa no pensamento ocidental esteve
sempre, ou pelo menos desde o Novo Testamento, reservada ao que temos de mais
patológico. Safatle (2015, p. 379), buscando problematizar
essa patologização, enuncia:
"Podemos dizer, inclusive, que uma concepção dessa natureza sequer é fenomenologicamente coerente, a não ser que se queira enviar à dimensão do patológico situações fenomênicas estruturalmente próprias às relações amorosas como a ambivalência irredutível de sentimentos, essa pulsação indeterminada entre amor e raiva, amparo e devastação, atração e recusa que não se organiza teleologicamente como momentos de teste em direção a uma comunicação cada vez mais consensual, mas que é expressão profunda de disjunção contínua entre o sujeito e os seus próprios "interesses". Ou ainda essa consciência tácita da fragilidade do amor em seus momentos de proximidade, a não reciprocidade assumida, o reconhecimento de que o amor nunca foi feito para evitar a angústia e vulnerabilidade, a capacidade de desconhecer sua própria vontade a fim de procurar construir ― sem expectativa de duração, pois o tempo intensivo não se conta ― outra subjetividade sob o fundo de uma disjunção que não se reduz (a não ser para os casais que compram roupas de jogging da mesma cor e correm juntos na beira do lago ― de fato, essa é sempre uma possibilidade, mas não para todos)."
"Podemos dizer, inclusive, que uma concepção dessa natureza sequer é fenomenologicamente coerente, a não ser que se queira enviar à dimensão do patológico situações fenomênicas estruturalmente próprias às relações amorosas como a ambivalência irredutível de sentimentos, essa pulsação indeterminada entre amor e raiva, amparo e devastação, atração e recusa que não se organiza teleologicamente como momentos de teste em direção a uma comunicação cada vez mais consensual, mas que é expressão profunda de disjunção contínua entre o sujeito e os seus próprios "interesses". Ou ainda essa consciência tácita da fragilidade do amor em seus momentos de proximidade, a não reciprocidade assumida, o reconhecimento de que o amor nunca foi feito para evitar a angústia e vulnerabilidade, a capacidade de desconhecer sua própria vontade a fim de procurar construir ― sem expectativa de duração, pois o tempo intensivo não se conta ― outra subjetividade sob o fundo de uma disjunção que não se reduz (a não ser para os casais que compram roupas de jogging da mesma cor e correm juntos na beira do lago ― de fato, essa é sempre uma possibilidade, mas não para todos)."
O que está em jogo no nosso presente
tensionamento do assunto é a ideia de que haveria um amor por trás, ou para
além, dos "amores" em suas múltiplas turbulências e contradições. A
nossa tese, nesse sentido, é de que não há tal amor. Mais ainda: se pretendermos
que o amor se predique com "verdadeiro" então não há amor de modo
nenhum. O conceito de amor, se queremos que ele comporte alguma suficiência
ontológica, precisa comportar as
nuances impredizíveis, interpenetradas, ambivalentes, conflituosas, violentas
até ― entendendo uma violência que não opera dentro de conhecidas estruturas políticas de exercício dela. Deixar de fora do "amor" a sua constituição
não-ideal ― porque não desejada ― implica, mais uma vez, autorizar,
tacitamente, supostas contingências. Tais contingências, vale dizer, quando
inscritas em processos de dominação ou violência, está a serviço de quem não é
vulnerável. Portanto, ou aceitamos a negatividade constitutiva do amor em seu
próprio conceito, ou continuaremos, pelo sentido que o conceito impele, sendo
surpreendidos por supostas "anomalias" que aguardam, ingenuamente,
ser superadas num futuro sem "relações de dominação".
Há um risco muito grande em supor ―
pois não passa de uma suposição ― que todos os comportamentos conjugais
indesejados desaparecerão se a reprodução de certos valores forem coibidos ou
mesmo erradicados ― e as ressonâncias com um skinnerianismo ultrapassado aqui é
patente. O fato de não haver "essências", pois de fato não há, por
trás das manifestações comportamentais dos seres humanos não implica uma tábula
rasa da dinâmica psíquica e, por conseguinte, do comportamento. Mais ainda, o
fato de considerarmos, hoje, que não existem, de modo geral, propriedades ou
disposições comportamentais "essenciais a espécie", não significa que
possamos saber quais serão os desdobramentos psicológicos, e portanto
comportamentais, de suas determinações. Em outras palavras, buscando
analogicamente a terminologia de Donald Davidson, nossa vida psíquica é anômala[4] em
virtude de seu caráter multiplamente imbricado e holístico. Assim sendo, quando
acreditamos ter solapado determinações negativas, elas se manifestam mais uma
vez, ainda que com outros modos, como resultado do conjunto de outras
determinações. Tudo isso podemos falar
sem, sequer, tocarmos em qualquer tentativa de naturalização de traços psíquicos
ou comportamentais.
Compreender a complexidade das
dinâmicas amorosas envolve se colocar na própria complexidade. Ao nosso ver, conceitos
psicodinâmicos como "inconsciente", "desejo velado" e etc.,
desde que suficientemente flexíveis, podem dar um ponta pé inicial nos problemas,
mas não encerram a complexidade. Além disso, nos colocando aqui contra o
monismo cultural, deve-se ter em mente que as determinações atuam em múltiplos
níveis: filogenéticos, embriológicos, ontogênicos, psicológicos, sociais e
morais. Uma resposta que não se encerre em simplismo será dita comportando pelo
menos alguns desses diferentes níveis.
Seja como for, uma conclusão tiramos dessa reflexão: o conceito corrente de
amor encoberta uma constitucionalidade (seja ela contingente ou não) violenta
das relações conjugais, fazendo com que quem esteja vulnerável seja incapaz de
prever seus prejuízos.
[1] Para uma primeira aproximação
com a filosofia da mente de Nagel, proponho a leitura de Abrantes (2005).
[2] Uma concisa exposição do
materialismo eliminativista (ou "eliminacionista" como alguns
tradutores preferem) pode ser encontrada em Churchland (2004,
p. 78-89). Exposições mais técnicas são encontráveis em Churchland
(1981).
[3] Dizer que algo é discreto, sobretudo entre físicos,
significa dizer que algo é quantificável, enumerável. O termo se aplica de
forma recorrente no debate da mecânica quântica.
[4] Para
compreender o anomalismo mental davidsoniano, ver Santos (2005).
Referências Bibliográficas
ABRANTES, P. Thomas Nagel e os limites de um reducionismo fisicalista (uma introdução ao artigo “What is it like to be a bat?”). Cadernos de História e Filosofia da Ciência, v. 15, n. 1, p. 223–244, 2005.
CHURCHLAND, P. M. Eliminative materialism and the propositional attitudes. The Journal of Philosophy, v. 78, n. 2, p. 67–90, 1981.
CHURCHLAND, P. M. Matéria e Consciência: Uma Introdução Contemporânea à Filosofia da Mente. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
COELHO, J. G. Consciência e Matéria: o dualismo de Bergson. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
DAWKINS, R. O Gene Egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
FREUD, S. A Interpretação dos Sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
NETO, B. P. Wittgenstein e bergson. Analytica, v. 9, n. 2, p. 43–58, 2005.
SAFATLE, V. O Circuito dos Afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
SANTOS, R. O que é o monismo anômalo? Philosophica, v. 25, p. 77–87, 2005.

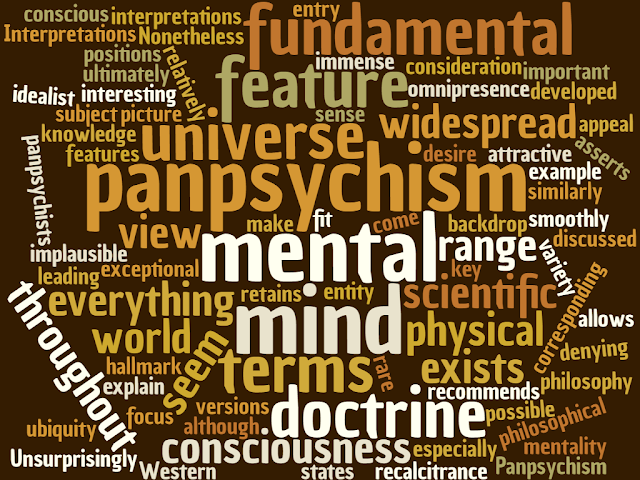

Comentários