Barry Smith: o encontro de mentes na comunicação (ou o otimismo de uma experiência intersubjetiva)
Por Benilson Nunes
Há muito, em filosofia da linguagem, assumimos que o entendimento da fala se dá pela decodificação, por parte do ouvinte, dos sons produzidos por um falante. Há um momento sintático, ou auditivo, importante da comunicação para se tornar possível a compreensão semântica. Escuta-se sons e sentenças organizadas para entendê-las. Nesse caso, escutamos não uma pessoa, mas um som ou frase. Este som ou frase, certamente, deve estar articulado dentro de uma língua e, assim, naturalmente, pressupomos. Logo, há o entendimento de que a comunicação se dá entre falas apropriadamente organizadas, e não, essencialmente, entre sujeitos. Isso significa, em última instância, que não são pessoas que comunicam, mas sim discursos.
Esse raciocínio parece razoável se considerarmos que há “falas” que não são emitidas por algo que denominaríamos como pessoa. Um computador, por exemplo, e assumindo que computadores não são pessoas, poderia emitir sons articulados dentro de uma gramática ou língua. Esta mensagem, por sua vez, poderia ser compreendida por um ouvinte capaz de compreender a linguagem na qual as sentenças emitidas por esse computador foram arranjadas. Assim, haveria como receber mensagens sonoras impessoais ― no sentido de não ser pessoas quem as emitem ¬― perfeitamente compreensíveis em seus significados subjacentes. Em uma extensão desse cenário, podemos, inclusive, considerar a comunicação efetiva não entre um computador e uma pessoa, mas mesmo entre dois agentes impessoais, dois computadores, sendo um o “falante” e o outro o “ouvinte”, digamos. Isso parece plausível. Todavia, em nossa comunicação ordinária, não estamos, geralmente, conversando com computadores, mas com pessoas, mentes. E, assim argumentaremos, há algo na dinâmica comunicativa cotidiana entre pessoas, ou sujeitos conscientes, que difere da comunicação sintática, impessoal ou inconsciente.
O que é distintivo, nesse caso, é a experiência da comunicação. Como dissemos, e de fato, há comunicação possível ― se queremos ainda chamar isso de comunicação ― em esferas impessoais. Todavia, a experiencialidade comunicativa parece ser propriedade apenas de sujeitos conscientes. Quando nos comunicamos, não estamos apenas passando ou repassando mensagens, estamos vivenciando, subjetivamente, a comunicação. Há, portanto, ontologicamente falando, algo a mais nesse tipo de comunicação. Argumentaremos, também, que não é apenas algo a mais, mas algo decisivo para se compreender o fenômeno da compreensão intersubjetiva: quando entendemos alguém, entendemos não a fala, as sentenças ou discursos, mas a mensagem subjacente pessoalmente emitida. Um elemento mental, fenomenológico, é experienciado.
O entendimento dessa tese se encontra já na linguagem cotidiana. Naturalmente, conversamos sem nos darmos conta da composição das sentenças emitidas. Mesmo frases complexamente construídas, se plenamente escutáveis, não nos convidam, por si só, a analisar suas partes. O conteúdo que se comunica, assim, apresenta-se antes, ou sem a necessidade, da decodificação sintática. Ouvimos e entendemos: o entendimento, em sua ocorrência comunicativa, é imediato. A mediação de uma decodificação, logo, em dimensão experiencial, não se apresenta.
Podemos, todavia, objetar que se o falante for de uma língua estrangeira com a qual não estamos familiarizados, a compreensão do significado não ocorre de modo imediato. Nesses casos, há, propriamente, o esforço de decodificação das partes enunciadas, um esforço de tradução para desvelar o significado. Contudo, mesmo nesses casos, gestos, olhares e outras sinalizações conjugadas à língua são capazes de indicar sentidos imediatos. É o caso, por exemplo, de quando um falante de língua estrangeira tenta se fazer entender para um ouvinte não tanto competente, mas ainda assim capaz, dentro de certos de limites, de captar os significados carregados por uma língua que não domina ou desconhece.
Em todo caso, haverá o momento em que teremos a experiência direta do sentido. É esse ponto que nos importa. Ainda que haja a necessidade de analisar expressões, de realizar esforços de tradução, o momento da experiência do significado será, sempre, a experiência do significado. Ele ocorre, cedo ou tarde. Cabe pensarmos, nesse viés de reflexão, o que constitui essa experiência.
Deixando de lado a interlocução com línguas estrangeiras, o sentido contido nas expressões entre falantes competentes de uma mesma língua ocorre sem delongas. Há, sempre, em condições apropriadas, um fluxo semântico, ou significante, antes que possamos, por uma atitude esforçosa, atentarmos-nos para a sintaxe ou o modo como estão dispostas as palavras ou componentes dessas expressões. Seguindo a intuição de McDowell, Smith (2009, p. 186) diz que “escutar uma fala em um idioma que entendemos não é uma tarefa de ouvir primeiro ruídos e, em seguida, passar a inferir o que eles devem significar”: eles já significam algo de imediato. Não há, na comunicação concreta, um significado oculto a ser desvelado. Não há uma “superfície” comunicativa que esconde o sentido, “ouvimos pessoas não apenas produzindo sons, mas dizendo algo”. Esse algo é, diretamente, o sentido veiculado. Por isso, se quisermos nos atentar aos sons, em vez dos sentidos, há um esforço adicional.
Smith (2009, p. 192) vai mais longe que isso. Essa compreensão imediata do sentido nas falas ocorre por uma razão aparentemente simples. A razão, segundo Smith, é que o sentido já se encontra em nossas mentes. Mais especificamente, o sentido que é veiculado se encontra na mente do falante, enquanto que o sentido captado ou ouvido se encontra na mente do ouvinte. Em suas palavras,
"Devo argumentar que os significados residem nas mentes dos falantes e dos ouvintes, e que os significados que ouvimos nas palavras das pessoas são os significados que nós assumimos que as palavras tenham. As palavras proferidas, quando reconhecidas, são ouvidas com os significados que elas têm para o ouvinte."
A solução de Smith certamente parece simples demais. Uma primeira leitura nos deixa essa impressão. No entanto, o fato é que não é simples argumentar a favor dessa tese, dado que, tradicionalmente, o sentido das sentenças é atribuído, em um viés literalista, às formas das sentenças, e não ao conteúdo semântico, ou intencional, que consta na mente de um ouvinte. Segundo o literalista típico, o sentido pode ser revelado apenas analisando a forma das sentenças, a sua composição gramatical, de tal forma que não fosse necessário apelar para a experiencialidade semântica a fim de explicar a comunicação. A atitude teórica de Smith, nesse sentido, será tachada pejorativamente como “psicologismo”.
Há muito, os filósofos da linguagem tentam evitar conclusões psicológicas a respeito do significado. Uma virada fenomenológica, no entanto, de ênfase nos aspectos subjetivos ou experienciais da comunicação, remonta o jogo para Smith.
Dito isso, haveria a necessidade de uma “metafísica dos sons” (SMITH, 2009, pp. 202-203) que levantaria a pergunta de onde se localizam os sons: os sons enquanto experiência sonora ― não as ondas sonoras, entidades objetivamente localizáveis. As respostas, mais comuns, podem variar entre localizar o som no falante, no ouvinte ou em algum lugar entre os dois. Uma quarta resposta, aparentemente mais radical, seria não localizar os sons, isto é, não os apontar com uma localização espacial. Se experiências conscientes, em todo caso, não são físicas, a experiência sonora também não o seria. O máximo que poderíamos, dessa forma, é localizar não o som, mas a fonte dele (SMITH, 2009, p. 203).
O nosso foco na atividade comunicativa é, sempre, a fonte de produção sonora. Melhor dizendo, é a fonte pessoal ou psíquica. Há uma pessoa mental comunicando-me algo, um conteúdo semântico, esteja o som lá ou aqui ou em lugar algum. O sentido, fenomenologicamente compreendido, parece ser transmitido direto da fonte, que também produz os rudimentos da experiência sonora e é, ao mesmo tempo, experiência do significado.
As informações que as ondas sonoras carregam são informações apenas a respeito daquilo que as produziu. No caso de um falante, essas informações indicam a comunicação de uma pessoa. Isso é tudo: informações sobre quem ou o que a emitiu. Assim, não posso localizar, nas próprias ondas sonoras, o sentido veiculado. Dito de outro modo, no ato comunicativo eu não escuto o significado das ondas sonoras, pois elas não possuem significado, mas escuto a própria pessoa, como em um “encontro de mentes”, diz Smith. De fato, se não detenho as condições necessárias para a compreensão da linguagem emitida, atento-me às características dos sons emitidos (ou frases), e não ao seu significado subjacente e, por conseguinte, não capto o significado transmitido. Por outro lado, se compreendo suficientemente a língua, estarei em contato imediato com o significado. Essa “imediaticidade” é inevitável para um ouvinte competente. Nesse momento, estou, em minha experiência, a escutar a pessoa, muito antes de suas sentenças expressas.
Haveria, então, uma interpretação mais profunda a se fazer do raciocínio Smith. O significado não pode existir em um plano, ou “superfície”, público. Sendo estritamente dependente de sujeitos conscientes, o significado só pode ser localizado em território subjetivo. O significado é resultado de uma poderosa alucinação produzida nessa economia intersubjetiva. Ondas sonoras ou sentenças sendo, nesse raciocínio, meros “gatilhos” (SMITH, 2009, p. 209) para experiências semânticas que já possuem seus rudimentos em nossas mentes. No fundo, ou objetivamente, diz Smith, os sentidos se encontram em nós mesmos; aparentemente, ou subjetivamente, por outro lado, tudo ocorre como se tivéssemos a presença mesmo de outra mente junto a nossa.
Referência Bibliográfica
SMITH, B. C. Speech sounds and the direct meeting of minds. In: NUDDS, M.; O’CALLAGHAN, C. (Eds.). Sounds and Perceptions: new philosophical essays. New York: Oxford University Press, 2009. p. 183–210.

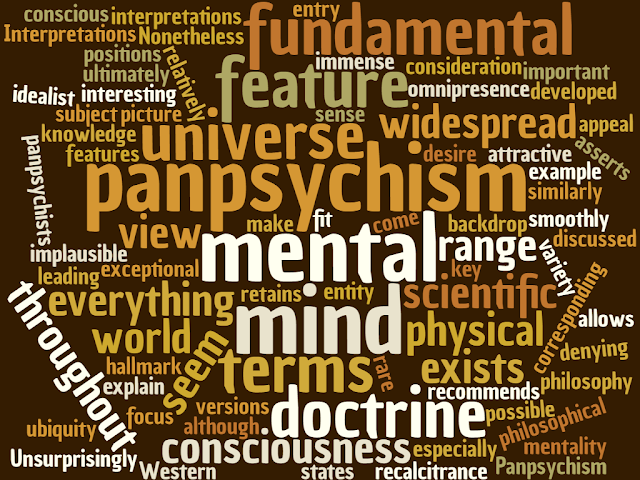

Comentários